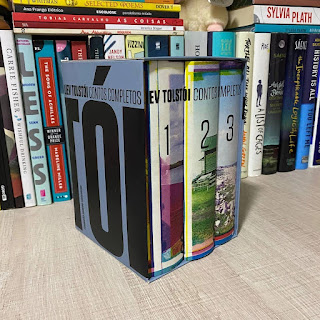Pedalei durante anos, até ser vítima de um assalto na Duodécimo Rosado, à época já uma das ruas mais movimentadas de Mossoró. Depois, ao superar o trauma, caí na Amaro Duarte. Estabaquei-me no chão feito jaca madura. Recentemente, por ordem da minha junta médica – ortopedista, endocrinologista, cardiologista e psiquiatra – matriculei-me na musculação e ressuscitei a bicicleta.
Um dos poucos exercícios físicos com os quais me identifico é o pedal e, mesmo assim, nem tanto. Minha vocação de “mermo-mermo” é o sedentarismo. Sou sedentário convicto e militante desde a infância. Se dependesse de mim, passaria o dia lendo e escrevendo. Aliás, embora cumprindo a obrigação de paciente bem-comportado, ainda não estou convencido da real necessidade de tanto esforço corporal.
No primeiro dia do recomeço, a bike me conduziu por 10 quilômetros. No segundo, cravei 13 em 50 minutos – e aqui não vai qualquer mensagem subliminar como o disco da Xuxa tocado de trás para frente ou a suposta guinada comunista das Havaianas. Poderia ter feito percurso maior, mas preferi não forçar a barra. Lembrei-me de Trupizupe interpretado por Nonato Santos: “Devagar com a ligeireza, que a vagareza se cansa”.
Fiz as duas últimas rotas em vias de Capim Macio e de Ponta Negra, a primeira em um início de noite e a segunda hoje de madrugada. Natal tem ótimas ciclovias, embora várias delas não me tranquilizem nem um pouco, por congregarem, no mesmo espaço, as faixas de ônibus e de bicicletas. O ciclista se sente o próprio Capitão Ahab desafiando uma Moby Dick a cada cinco minutos, no oceano de carros.
Desculpa se a comparação parece antiecológica. Reconheço que as baleias são criaturas inocentes. Elas não criam problemas, a não ser quando provocadas, diferentemente dos ônibus enfurecidos e dos carros e motos inconsequentes, que invadem a “ciclo-bus-faixa” e ultrapassam quase se esfregando em nós, para evidenciar a relação de poder desigual entre o Senhor Volante e o Senhor Pedalante.
 |
| Imagem produzida pelo Gemini |
“Ok”, “ok”, “ok”, tomo por empréstimo a expressão do grande Afonso Lemos para anunciar que devo testar áreas menos caóticas nos próximos dias. A Via Costeira – entre Ponta Negra e a Ponta do Morcego – parece segura quanto ao risco de atropelamento. Há também a Rota do Sol. Posso ir ao Pium e voltar sem maior sacrifício, suponho. Só temo o vento. Na hora em que esse camarada se lança com as quatro patas nos peitos de um indigitado, parece até que as catracas estão engatadas em marcha a ré.
Qualquer coisa, se eu não aguentar o tranco, peço a Clarisse Tavares que me resgate na estrada, circunstância previsível que me lembra certa viagem que tentei fazer, com um grupo de ciclistas turbinados, de Mossoró a Assú, em Noite de Lua Nova, na contramão da ventania. Antes da metade do caminho, arreguei e pedi ajuda ao repórter fotográfico Luciano Lellys, que logo saiu em meu socorro no Fiat Uno do jornal O Mossoroense.
Para não ficar esperando na BR-304 – passava das 21h e eu ainda estava assustado com o assalto –, continuei pedalando na expectativa de alcançar Zé da Volta. De repente, vi Luciano passar, lépido e fagueiro. Gritei, gesticulei... e nada. Chegando ao posto, a cerca de 40 quilômetros de distância de Mossoró e 30 de Assú, consegui um telefone emprestado e liguei para Lellys, que há tempos acompanhava o comboio do qual eu me separara por falta de preparo físico e de velocidade.
Meu amigo voltou, ajudou-me a
arrumar, no bagageiro do carro, a bicicleta que depois vendi a Gilson Cardoso. Arriamos
o banco traseiro do Uno e tiramos o pneu dianteiro da bike para caber. Na volta,
já na zona urbana, perguntei se o socorrista, ao passar, não havia me visto no
acostamento. E ele respondeu: “Não! Eu vi um babaca quase morrendo, pedalando sozinho,
e fui embora”. Pois bem, o babaca era eu.